JACQUES RANCIÈRE
Um porco cor-de-rosa deitado, feito de silicone, metal e fibra de vidro, levanta suavemente orelhas, patas e rabo ao comando de um aparelho elétrico.
 Paul McCarthy, Mechanical Pig, 2005, silicone, platinum/fiberglass, metal, electrical components, 101.6 x 147.3 x157.5 cm.
Paul McCarthy, Mechanical Pig, 2005, silicone, platinum/fiberglass, metal, electrical components, 101.6 x 147.3 x157.5 cm.Um pouco mais adiante, outros porcos, estes de latão, copulam alegremente com piratas, à sombra de coqueiros metálicos, que enfeitam uma ilha de latão pousada num mar de resina. Ao redor, na galeria, vêem-se barcos de madeira ou bustos de piratas em materiais diversos. As paredes da sala estão cobertas de grandes desenhos, feitos a guache, representando outros piratas de histórias em quadrinhos envolvidos em diversas atividades burlescas ou pornográficas.
 Paul McCarthy, Pirate Party Photo, 2005, Video Still
Paul McCarthy, Pirate Party Photo, 2005, Video StillNo andar superior, acumulam-se bustos, máscaras ou corpos desmembrados em gesso; montagens fotográficas nas paredes nos mostram corpos misturados e pintados de vermelho berrante, que parodiam as cerimônias sangrentas do acionismo vienense dos anos 60, enquanto o manequim de cera do artista adormecido exibe seu sexo descoberto ao olhar divertido dos adolescentes de passagem.
A exposição, apresentada pela White Chapel Art Gallery, chama-se "Lala-Land Parody Paradise" [Paraíso da Paródia Lala-Land] e confirma o gosto de seu autor, Paul McCarthy, pelas grandes encenações que misturam a iconografia popular dos filmes de animação, dos quadrinhos ou dos parques de diversão e a dos filmes pornográficos, com a intenção sempre declarada de nos revelar o "lado sombrio" das mitologias consumistas, ao mesmo tempo em que dá livre curso à alegre energia popular captada pelos ícones do comércio e do poder.
 Jake and Dinos Champman, Disasters of War, 1993. Mixed media
Jake and Dinos Champman, Disasters of War, 1993. Mixed media
displayed: 1300 x 2000 x 2000 mm, sculpture, Tate Gallery, LondonUm pouco mais ao norte, numa outra galeria do East End londrino, os irmãos Jake e Dinos Chapman propõem, em torno dos "Caprichos" de Goya, por eles reproduzidos, modificados e sarapintados, uma proliferação de desenhos e gravuras nos quais se agita todo um povo de ícones infantis -Chapeuzinho Vermelho, os três porquinhos, Bambi e uma infinidade de coelhos, ursos, feiticeiros, duendes e dragões os mais variados, todos entregues a atividades perversas.
Do outro lado do Tâmisa, a exposição "Universal Experience" dedica-se às produções artísticas suscitadas pelo fenômeno do turismo de massa. Nela se destaca, entre um vídeo sobre turistas americanos que imitam canibais e fotografias de diversos lugares célebres reproduzidos num parque de diversões de Las Vegas, uma grande instalação de Thomas Hirschorn, em forma de pirâmide de papelão, na qual se misturam, sobre obeliscos e sarcófagos igualmente de papelão, imagens de imprensa da Guerra do Iraque, cópias de estatuetas egípcias e imagens pornográficas.

Prosseguindo em direção ao oeste, pode-se visitar a terceira edição da Frieze Art Fair e ali constatar que o "retorno da pintura", muito proclamado nos últimos tempos pelos galeristas, obedece basicamente à mesma estética. Quer utilizem técnicas neo-expressionistas, pós-pop ou neo-hiper-realistas, os pintores recorrem em massa ou à iconografia popular e publicitária americana ou à dos heróis do trabalho soviética e chinesa, quando não às estampas infantis ou aos cromos religiosos de antigamente.
Não se sabe muito bem, no limite, se essa pintura "neo-pós" imita a iconografia popular e publicitária kitsch, se imita a pintura que imitava ontem essa iconografia ou se imita simplesmente a prática antiquada da pintura, transformada ela própria num elemento da cultura kitsch.
Estereótipos da percepçãoÉ o problema colocado por essas estratégias artísticas que reproduzem ou transformam a iconografia dominante. Elas se afirmam, às vezes, como um simples jogo. Mas, com mais freqüência, insistem em reafirmar uma vocação de crítica política e social. Elas pretendem reelabor todos esses ícones da infância, da mercadoria, do comércio e da publicidade para nos fazer perceber os estereótipos que governam nossa percepção.
Um termo, sempre em voga, resume tal pretensão: desvio. Ao darem uma forma plástica monumental às imagens planas das telas midiáticas e dos cartazes publicitários, ao acentuarem a vulgaridade das imagens reinantes, ao transformarem seu erotismo discreto em pornografia berrante, os artistas parodistas estariam levando adiante a tradição crítica do desvio tal como era entendido nos anos 60 e 70.
 Guy Debord, Contre le cinema, DVD, 2005.
Guy Debord, Contre le cinema, DVD, 2005.O grande teórico da "sociedade do espetáculo", Guy Debord [1931-94], já não havia proposto, com essa finalidade, este conceito: voltar contra o inimigo suas próprias imagens? Há alguns anos, em Paris, o centro Pompidou apresentava uma grande exposição intitulada "Para Além do Espetáculo": filmes publicitários, personagens de mangás, sons de discoteca, balões, carrosséis e brinquedos reciclados associavam-se a um caubói lúbrico de Paul McCarthy e a uma estátua neoclássica de Jeff Koons por ele mesmo como ídolo pop, para significar a derrisão das distrações e das imagens kitsch da cultura de massa.
O problema é que esse tipo de desvio já foi muito praticado, e a iconografia dominante o anula de antemão, ao produzir sua própria derrisão e sua própria paródia.
Mas também não é certo que a referência ao situacionismo e ao pensamento contestatário de Maio de 68 seja muito fiel ao estilo desse pensamento. O novo entusiasmo pelo situacionismo oferece os meios de verificá-lo: Guy Debord entendia por espetáculo algo mais que a cultura midiática de massa e, por desvio, não apenas a repetição em traços exagerados dos ícone mercantis. Seus filmes, durante muito tempo subtraídos ao público por sua vontade mesma, estão reaparecendo, aliás, em salas de cinema e sendo editados em DVD.
E quem vê "A Sociedade do Espetáculo" [1973] ou "In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni" [1978] pode constatar que o espetáculo, para o teórico do situacionismo, era bem mais que a cultura midiática. Era o mundo da vida separado dos indivíduos, apropriado pelas forças do capitalismo ocidental e da burocracia soviética.
Assim, ele não buscava, nesses filmes, enfatizar a proliferação das mercadorias e de seus ícones.
Suas imagens noturnas dos "halles" de Paris nada têm a ver com o amontoado de mercadorias que, em muitas instalações contemporâneas, supostamente critica o reinado do consumo. Elas evocavam nostalgicamente a velha Paris misteriosa dos passeios surrealistas, que ia ser destruída pelas grandes operações imobiliárias dos anos 70.
E as imagens que ele voltava contra o inimigo não eram as das publicidades estupidificantes. Eram histórias de amor, ação e heroísmo contadas pelos westerns de John Ford, Raoul Walsh e Nicholas Ray.
Não era por derrisão antiianque que ele nos mostrava Erroll Flynn partindo ao ataque contra as tropas sulistas ou os índios, mas para reivindicar sua bravura no ataque contra o inimigo capitalista e burocrático. E o tom aristocrático e o estilo elegante de seus comentários estavam muito longe do humor carnavalesco dos artistas de hoje. A oposição global declarada contra a dominação mercantil dispensava o trabalho de copiar-lhe as insígnias.
Certamente havia em Guy Debord uma pose aristocrática muito particular. Mas, se ele pôde se tornar um ícone do "pensamento de 68" é porque a forma de contestação da cultura dominante praticada naqueles anos estava muito distante da que reivindicam, em nome do desvio, os artistas de hoje.
 Philippe Garrel, Amantes Constantes, 2005
Philippe Garrel, Amantes Constantes, 2005Uma outra ocasião de verificar isso é fornecida pelo filme de Philippe Garrel, "Les Amants Réguliers" [Os Amantes Constantes], recentemente premiado no Festival de Veneza. Não que se trate de um filme militante que lembraria as verdadeiras palavras de ordem do combate parisiense de 68. Ao contrário, a distância está no núcleo do filme: distância entre os grupos jovens dos atores de hoje e os grupos jovens dos anos 60, cuja sensibilidade e as maneiras de ser tentam recuperar; mas distância também daqueles próprios grupos em relação ao que lhes acontecia e ao que procuravam fazer advir na sua tentativa de "mudar a vida": confusão da noite das barricadas, dividida entre o amor a reinventar e a fidelidade à subversão artística, desejos de fuga e seduções da droga.
Os personagens do filme atravessam essas experiências, nas quais se resume facilmente a história de uma geração, como que na ponta dos pés, como que assustados com o ruído que fizeram por um momento na cena do mundo. O que o filme de Garrel nos restitui de forma perturbadora é a fragilidade, a timidez que estiveram no centro do sonho de transformação daqueles anos. É essa espécie de pudor meditativo no confronto que é tachado, retrospectivamente, de ingenuidade.
Mas talvez haja uma lei mais geral: os grupos nunca estão realmente prontos para os grandes confrontos nos quais se arriscam. Comparada à falta de habilidade dos jovens heróis de Garrel, a animação berrante dos campeões do desvio de hoje se parece mais com a patifaria que acompanha os consentimentos à ordem existente.
Jacques Rancière é professor na Universidade de Paris 8 e autor de "O Dissenso" e "A Partilha do Sensível" (ambos pela ed. 34).
Tradução de Paulo Neves.
Matéria publicada pela Folha de S. Paulo na edição de domingo, 04/12/2005. As imagens foram acrescentadas a posteriori pela autora deste blog.









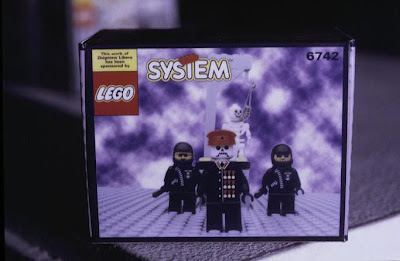






























 ALBERT CAMUS
ALBERT CAMUS Contadas seis décadas desde a publicação do livro mais negro da Escola de Frankfurt (a Dialética do Esclarecimento, 1947), fenômenos como o desenvolvimento das redes, a emergência do software livre, a atuação da mídia independente e, sobretudo, o movimento pela Cultura Livre poderiam ser tomados, no limite, como contra-agentes da indústria cultural -- e, portanto, como avatares de uma outra Aufklärung?
Contadas seis décadas desde a publicação do livro mais negro da Escola de Frankfurt (a Dialética do Esclarecimento, 1947), fenômenos como o desenvolvimento das redes, a emergência do software livre, a atuação da mídia independente e, sobretudo, o movimento pela Cultura Livre poderiam ser tomados, no limite, como contra-agentes da indústria cultural -- e, portanto, como avatares de uma outra Aufklärung?

 Walter Benjamin. Passagens. Edição alemã: Rolf Tiedemann. Organização da edição brasileira: Willi Bolle. Colaboração na organização da edição brasileira: Olgária Chain Féres Matos. Tradução do alemão: Irene Aron. Tradução do francês: Cleonice Paes Barreto Mourão. Revisão técnica: Patrícia de Freitas Camargo. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 1167 p.
Walter Benjamin. Passagens. Edição alemã: Rolf Tiedemann. Organização da edição brasileira: Willi Bolle. Colaboração na organização da edição brasileira: Olgária Chain Féres Matos. Tradução do alemão: Irene Aron. Tradução do francês: Cleonice Paes Barreto Mourão. Revisão técnica: Patrícia de Freitas Camargo. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 1167 p.




